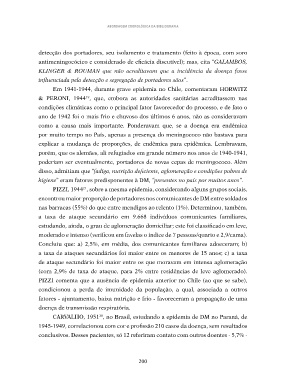Page 202 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 202
ABORDAGEM CRONOLÓGICA DA BIBLIOGRAFIA
detecção dos portadores, seu isolamento e tratamento (feito à época, com soro
antimeningocócico e considerado de eficácia discutível); mas, cita “GALAMBOS,
KLINGER & ROUMAN que não acreditavam que a incidência da doença fosse
influenciada pela detecção e segregação de portadores sãos”.
Em 1941-1944, durante grave epidemia no Chile, comentaram HORWITZ
19
& PERONI, 1944 , que, embora as autoridades sanitárias acreditassem nas
condições climáticas como o principal fator favorecedor do processo, e de fato o
ano de 1942 foi o mais frio e chuvoso dos últimos 6 anos, não as consideravam
como a causa mais importante. Ponderavam que, se a doença era endêmica
por muito tempo no País, apenas a presença do meningococo não bastava para
explicar a mudança de proporções, de endêmica para epidêmica. Lembravam,
porém, que os alemães, ali refugiados em grande número nos anos de 1940-1941,
poderiam ser eventualmente, portadores de novas cepas de meningococo. Além
disso, admitiam que “fadiga, nutrição deficiente, aglomeração e condições pobres de
higiene” eram fatores predisponentes à DM, “presentes no país por muitos anos”.
21
PIZZI, 1944 , sobre a mesma epidemia, considerando alguns grupos sociais,
encontrou maior proporção de portadores nos comunicantes de DM entre soldados
nas barracas (55%) do que entre mendigos ao relento (1%). Determinou, também,
a taxa de ataque secundário em 9.668 indivíduos comunicantes familiares,
estudando, ainda, o grau de aglomeração domiciliar; este foi classificado em leve,
moderado e intenso (verificou em favelas o índice de 7 pessoas/quarto e 2,9/cama).
Concluiu que: a) 2,5%, em média, dos comunicantes familiares adoeceram; b)
a taxa de ataques secundários foi maior entre os menores de 15 anos; c) a taxa
de ataque secundário foi maior entre os que moravam em intensa aglomeração
(com 2,9% de taxa de ataque, para 2% entre residências de leve aglomerado).
PIZZI comenta que a ausência de epidemia anterior no Chile (ao que se sabe),
condicionou a perda de imunidade da população, a qual, associada a outros
fatores - ajuntamento, baixa nutrição e frio - favoreceram a propagação de uma
doença de transmissão respiratória.
28
CARVALHO, 1951 , no Brasil, estudando a epidemia de DM no Paraná, de
1945-1949, correlacionou com cor e profissão 210 casos da doença, sem resultados
conclusivos. Desses pacientes, só 12 referiram contato com outros doentes - 5,7% -
200